Our Devoxx Java Puzzler
This year Expedia Group sponsored Devoxx UK and I joined the Expedia booth as one of the representatives from Hotels.com (part of Expedia Group). As part of our booth, we created a Java puzzler which…
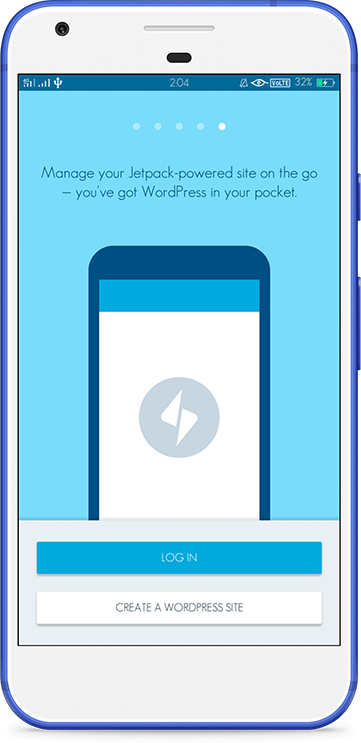
独家优惠奖金 100% 高达 1 BTC + 180 免费旋转
O mundo mudou
CATÁLOGO
Os filhos da geração da II GM ouviram de seus pais a constante surpresa com as mudanças no mundo: poderíamos desaparecer como espécie depois das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Como escapar da morte não mais pela grande guerra, nem por uma vontade política de governos e cidadãos contra outros povos, como pretendeu o nazismo?
A guerra e o seu final anunciavam relações mais livres com o sexo, era cada vez mais visível uma disponibilidade maior do mercado em absorver as mulheres, e já se falava, entre paredes, da presença homossexual no interior das famílias.
O mundo mudara mesmo, o socialismo poderia se fazer global e os democratas se mostravam apreensivos. Vivíamos na América do Sul uma nova era que imprensa e analistas caracterizavam como populismo, uma certa conexão entre interesses burgueses e operários em função do desenvolvimento.
Havia uma obsessão pelos meios para sairmos do subdesenvolvimento. A crença na escola para todos estava estampada nas casas para que a vida dos filhos se tornasse menos dura, e fosse possível uma ascensão social mais elástica pelo acesso dos filhos dos operários ao trabalho intelectual.
O mundo mudava rápido com a televisão e com a busca de outra vida no espaço sideral. Ao sair desse mundo terreno para o espaço celestial, estaríamos infringindo o governo de Deus que olha para todos do alto e nos vê em qualquer canto? Se o “homem” fosse para o espaço ele nos veria também lá do alto com equipamentos que poucos desconfiavam existir.
Para um menino e uma menina aqui embaixo olhando para o céu havia apenas a imagem refletida da nossa bola, a mesma bola de futebol que traduzia em gols as vitórias de uns artistas subdesenvolvidos. O Brasil era o campeão mundial na Europa e no ano seguinte seria o bicampeão mundial.
O mundo era a Terra e nele qualquer um poderia ser campeão ao ascender socialmente no capitalismo ou encontrar a igualdade no socialismo. Parecia até que tudo se encontrava em sínteses dicotômicas ultrapassáveis: capitalismo-socialismo, democracia-socialismo, Europa-Américas, subdesenvolvido-desenvolvido, céu e Terra. Não, não era tão simples, mas parecia simples. Bastava ter vontade. Ingenuidade de crianças e jovens que cresciam num novo mundo de consumo e ideias, de possíveis liberdades e descrença na guerra, ainda que houvesse a guerra da Coreia e mais tarde a do Vietnã. Mas quando esta ocorreu o mundo estava em disputa acirrada: não bastava sonhar com ascensão social, e seria verdadeiro tudo que nossos avós malucos diziam sobre o socialismo na URSS e na China? O anarquismo era mesmo uma coisa do passado quando os operários viviam sua infância?
Falava-se de novas revoluções, uma delas bem pertinho de nós, em Cuba. Era possível. O chamado populismo era real. O homem no espaço era real e ainda falavam que chegaríamos à lua e que o país que lá chegasse seria o vitorioso nesta corrida. Tudo uma corrida, uma tremenda competição científica, artística, futebolística, todos querendo escola, exigindo mais e mais do Estado.
Falava-se que com a ONU teríamos definitivamente um guardião da paz e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 nos preservaria de políticas de extinção da espécie, das torturas, traria igualdades fundamentais e nos reconheceria, finalmente, como membros da espécie humana com todas as nossas diferenças. Mas isso era uma conversa episódica nos lares ou mesmo na escola.
O Brasil era rico em riquezas naturais e isso era uma vantagem. Ensinavam que a Floresta Amazônica era o pulmão do mundo, que o rio Amazonas não era o mais extenso, mas o mais caudaloso. Porém, ele não era só do Brasil, nascia a oeste, no Peru, para desaguar no oceano Atlântico. Ele era e não era brasileiro. A geografia que aprendíamos o represava no Estado-nação e ensinavam que este era resultante da fusão harmônica de todos os povos que aqui habitavam.
Nas aulas de história, apesar de toda eloquência investida nas descobertas marítimas portuguesas e na ação filantrópica dos jesuítas, alguns de nós desconfiavam das simples constatações que essa terra brasileira era habitada por selvagens sem rei, lei e alma. A professora ficou embaraçada quando alguém perguntou como os índios viveram por tanto tempo sem rei, lei e alma antes da chegada dos descobridores. Eles não sabiam o que era o progresso que os brancos trouxeram. Assim nos educavam para compreender que o progresso vinha de fora, dos mais desenvolvidos. Então alguém sabia mais de nós que nós mesmos? Assim como os portugueses e espanhóis sabiam mais dos índios que eles mesmos? Que mundo estranho era aquele!
A escola nos ensinava a geografia e a história, como amar a língua portuguesa, nossas riquezas naturais e os governantes que eram tão inteligentes que conseguiam juntar todos os segmentos sociais crentes no futuro. O Brasil era o país do futuro. O maior do nosso continente, cercado de povos amigos de língua espanhola que também civilizaram os índios. E todos os demais povos eram índios integrados pelo Estado-nação aos imigrantes europeus.
Os estrangeiros sabiam colonizar, por vezes foram violentos escravizando índios e depois negros para cá trazidos porque falavam que o índio era indolente. Ouvíamos até que houvera os antropófagos, que havia pigmeus na África, que o “homem” se deslocara pelas terras desse mundo há muitos milhões de anos, que cientificamente veio do macaco e que era filho de Deus. Tudo ficava um pouco confuso. Nos primórdios éramos filhos de Deus à sua imagem, depois descendíamos evolutivamente do macaco, uns eram superiores outros selvagens e até havia os bárbaros como os nórdicos que destruíram o Império Romano, uma cultura decalcada da Grécia, e que houve a civilização egípcia, muito imponente em arquitetura e agricultura. Havia uma evolução linear e outra não tão linear, mas sempre vencia o mais forte e a guerra, mesmo sendo violenta, trazia o resultado definitivo para que a paz prevalecesse.
O mundo mudava com as guerras. Nossa civilização era a dos vencedores. Nosso Estado era dos brasileiros, mesmo que a gente pouco entendesse que o romano era romano em muitos outros territórios. Coisa do passado. Éramos americanos e nem tanto, porque americano era o habitante dos Estados Unidos. Tudo o que era moderno, da calça ao eletrodoméstico, e principalmente o automóvel e o avião, era americano. A música e os filmes modernos também eram criações da cultura americana. Os franceses gostavam de livros, os portugueses de Os Lusíadas, que eram coisas longas, que exigiam muito tempo de cada um e não traziam o livre divertimento moderno do rádio, da televisão e do cinema. Era para o gosto de quem tinha tempo, era para intelectuais que apreciavam a história da cultura, para a elite.
Os índios não tinham essa cultura superior, nem os escravos negros, mas o europeu a tinha, e se estudássemos muito nós teríamos possibilidade de encontrar um bom trabalho e ter tempo para ler. Ao menos os que passaram a ter o gosto pelos livros. Era preciso estudar muito para aos 14 anos ter possibilidade de encontrar um emprego melhor do que o sujo das fábricas e passar para o turno da noite na escola. Não era raro ouvir do colega que ele queria trabalhar no banco ou no comércio. Tinha até umas meninas que diziam querer trabalhar, que achavam a vida das mães delas muito chata cuidando da casa, e alguns meninos concordavam um pouco com elas.
Tínhamos que estudar, nos preparar para o trabalho limpo e engravatado ou com vestido, para constituir família, ter uma mulher ou marido e outra mãe em casa. Tudo simples assim. Alguns achavam que essa era a simplificação do que deveria ser a vida futura, normal e melhor do que a que levávamos. Quem não seguisse esse itinerário seria um operário ou um puxador de carroça, doméstica ou esposa. Mas para seguirmos esse trajeto tão claro, limpo e saudável não podíamos ser indisciplinados na escola.
Deveríamos ser obedientes. Muitos colegas eram surrados em suas casas, às vezes chegavam com marcas e alguns de nós ficávamos revoltados com os pais deles. Muitas vezes, eram eles que azaravam a aula e a professora os colocava de castigo. Eles ficavam mais revoltados e ganhavam também nossa adesão — de poucos, é verdade. A professora, a diretora, a funcionária que vigiava o recreio eram nossos alvos. Alguns partiam para o enfrentamento físico com elas ou mediam forças e atemorizavam os colegas mais passivos e conformados. E aí virava outra confusão sobre como era certo ir contra as autoridades, mas que era errado amedrontar fisicamente os colegas. Bem, isso não tinha solução.
Naquele teatro de punições e lições sobre o mundo e o Brasil, primeiro como crianças e depois como jovens, aprendemos a ser normais e, de vez em quando, indisciplinados. Às vezes, abria-se uma conversa sobre um parente doente ou louco; que os hospitais eram estranhos porque tinha ala para ricos e ala para pobres; que cabia às mães levar seus bebês nos postos de puericultura, limpar a casa e deixar os filhos limpos de banho tomado e uniforme lavado e passado para irem à escola. Tinha mãe de colega que era louca, vizinho que era louco, e às vezes diziam que tinha crianças com doença mental. Os indisciplinados, principalmente os surrados em casa, eram vistos como anormais. Tinham de ser muito bem observados para que não virassem pequenos criminosos. Um pequeno furto na sala de aula, e não foram poucos por desejo de lanche, borracha, uns trocados… era uma sessão estranha de pressão pela autoacusação ou delação do infrator. O resultado ia para o Livro da escola, os pais eram comunicados e o menino ou a menina eram vistos a partir de então como um pequeno ladrão ou pequena ladra. Esperava-se que com isso as boas maçãs fossem afastadas das podres.
Aos poucos alguns percebiam que a escola era parecida com o que o pai e mãe contavam da fábrica ou do escritório. A escola também se assemelhava à casa. Mas a escola procurava se mostrar como o centro de preparação para os desvios nos lares e na sociedade, o lugar ideal, do certo, de como aprender a obedecer seguindo a didática, os zelos com o asseio, os momentos para comer, brincar e voltar a estudar. E continuar estudando em casa cumprindo todas as lições a serem feitas (no Rio de Janeiro, lição de casa é dever, e pelo menos para uns de nós essa designação era muito mais autoritária, mesmo constatando que não trazer a lição pronta ou o dever de casa cumprido repercutia nas mesmas sanções). Ensinar as crianças a obedecer e a seguir as regras para a boa formação era com que a escola contribuía para nos fazer desse mundo. Tirava-nos do mundinho da casa e da família, da vizinhança, das ruas, dos maus elementos, dos perigos e das doenças epidêmicas para preparar cada um e a todos para a vida do trabalho.
Não éramos tão tolos ou ingênuos, porque tínhamos ouvidos, pensávamos, e nos perguntávamos se todas as escolas só serviam para preparar para o trabalho futuro no mundo civilizado. Desconfiávamos que houvesse escolas para quem manda, mesmo que quase todos quisessem ter uma boa formação para mandar nos subordinados. A escola que ensina a obedecer também instrui como se deve mandar nos outros. Eram todas mais ou menos iguais. Vez ou outra entrava nas conversas o assunto universidade. Era um assunto muito raro, uma coisa distante, feita para quem gostava de ler, de estudar, ou melhor, quem gostava de ler e estudar e tinha tempo. Muitos saíam da escola para um trabalho sem registro; meninas voltavam para casa para ajudar na preparação do jantar ou cuidar dos irmãos mais novos. E ainda tinha aquele mundão de lições-deveres a cumprir.
Gostávamos de cantar as músicas do rádio, alguns tinham vitrolas e discos de música clássica (que muitos achavam chatas e longas), detestávamos as aulas de canto orfeônico e alguns, entre nós, se recusavam, em filas duplas dispostas no pátio antes do início das aulas, a cantar o hino nacional. Tinha os que se emocionavam e os que dublavam para burlar os olhos sobre nós das professoras e dos bedéis que comandavam na dianteira cada conjunto de alunos enfileirados até a sala de aula. Ali tudo recomeçava no ponto anterior, seguindo a sequência programada de ensino da língua, da aritmética, das ciências e da história e geografia.
Todos também aprendíamos a amar os símbolos da pátria e a compreender que tudo em volta era corriqueiro, normal e que qualquer situação anormal ou perigosa no país e no mundo seria solucionada pela polícia e a justiça, que o governo tinha de saber tratar dos mais diferentes e difíceis problemas, e que nós deveríamos contribuir para que a ordem sempre fosse mantida: ordem e progresso como estava na faixa da bandeira do Brasil que tinha o verde das florestas (sim, da Amazônica e das matas), o amarelo do ouro mineiro e do sol, o azul do firmamento e o branco da paz, tudo integrado na bandeira. E como ela era linda! Ninguém nos ensinava que as cores signficavam outra coisa: o verde era cor da Casa Real dos Bragança e o amarelo da Casa dos Habsburgo e, por isso, a bandeira da República era quase igual à do Império.
O mundo da escola, fora dela e além do sistema solar e da via Láctea, tudo por Deus, pelo progresso, pela ordem. Neste mundo também de indisciplinas, anormais, perigosos, inconformados, revoltados. Sim, tinha de ser assim aqui e no socialismo, porque há sempre quem manda e obedece. Tinha o governo que mandava, a professora que governava, os bedéis que vigiavam, e todos governavam nossas condutas e nós as dos outros, uma vigilância preventiva, diziam, eficiente para que todos vivêssemos em paz, respeitássemos a autoridade superior, colaborássemos contra a guerra. Afinal, o Brasil era um país pacífico!
E entre nós também havia algumas crianças que ouviam o contrário. Mas todos tinham que ir para a escola, porque simplesmente éramos uns privilegiados, porque no Brasil, um país subdesenvolvido, não havia escola para todos, porque na cidade não havia escola para todos os filhos de migrantes pobres e na zona rural, quase nada de escola. Parecia que os filhos dos trabalhadores das cidades tinham o mesmo privilégio dos meninos e meninas ricas. Estávamos já nos desenvolvendo. Os filhos dos operários já iam mais regularmente para o ginásio, e alguns ouviram a notícia de que a Terra é azul, que testes nucleares eram realizados no Oceano Pacífico assim como ocorrera no deserto de Sonora no México antes dos americanos jogarem as bombas sobre as cidades japonesas.
Isso era desenvolvimento, mas também um perigo para todos. Afinal, quais seriam os efeitos dessa palavra macabra: radioatividade? Mas o câncer era tratado com radioterapia… Havia uma duplicidade nisso tudo. Falava-se muito das reservas de petróleo, das disputas pelo carvão e o aço, das siderurgias, e do Volkswagem, o fusca que seria humanizado pelos estúdios Disney, e que fora o automóvel saudado pelo Adolf Hitler como carro de acesso popular a qualquer alemão. A gente sempre sabia umas coisas estranhas que não estavam na enciclopédia e muito menos na revista Seleções, no Almanaque Fontoura ou na escola. Sabia-se mais de criptonita que radioatividade, de um estilo de vida americano veiculado pelos gibis e pelas revistas femininas de romances fotografados. Às vezes sabíamos de sexo por meio de livros proibidos e os inesquecíveis “catecismos”. Às vezes, notávamos como nossos pais ficavam apreensivos com a edição extra do Repórter Esso, na TV Tupi, interrompendo a programação ou mesmo uma propaganda. Anunciava que algo temeroso acontecia no mundo e, por vezes, no país: greve, renúncia do presidente, problemas políticos, um incêndio em um edifício, alagamentos, enfim, o extraordinário que era o ordinário em nossas vidas poupadas pela escola. Não me recordo de uma interrupção destas em jogo de futebol, mas o futebol pela TV era aos domingos ou numa noite de semana, e os domingos e a noite diziam que eram horas de descanso em família, dos pecados, das transgressões.
Mesmo que a terra tremesse no Japão, onde era dia, só saberíamos na manhã do nosso dia seguinte nos jornais que estampavam política, tragédias provocadas por eventos da natureza, matanças em família, assaltos inéditos, notícias escandalosas sobre o terceiro sexo, tudo isso nas bancas de jornal e revistas como na canção cinematográfica de Caetano Veloso, que estamparia ironicamente tanta alegria-alegria. Tinha dia santo, feriados, natal e dia do trabalho como até hoje. E tinha revoluções, homem na lua, e os Beatles e os Rolling Stones, a MPB, o Cinema Novo nos festivais de cinema europeus, mas ainda tinha o Mazzaropi, a TV, o João Goulart como vice-presidente em viagem diplomática pela China comunista, a sua volta sob o parlamentarismo com Tancredo Neves, o herdeiro da caneta de Getúlio Vargas, as Ligas Camponesas, o operariado nas ruas, a presença da Revolução Cubana, a propagação do socialismo, os hippies, undergrounds, beats, palavras em português e inglês que misturavam ordem e contra-ordem. Estávamos mudando mesmo.
Um golpe de Estado no Brasil anunciou o que seria um corretivo (éramos indisciplinados a tal ponto?) para que a democracia se solidificasse e a ameaça comunista fosse banida do país, com a ajuda dos americanos. Diziam que não, mas nas casas de muitos de nós diziam que sim; uns para se posicionarem contra, outros agradecendo a Deus. Será que estes eram assuntos para um novo Tribunal de Nuremberg ou o Tribunal de Tóquio? Não, estes existiram para julgar crimes da II Guerra Mundial, mas se falava que havia nazistas na Argentina e no Paraguai, até mesmo aqui no Brasil onde houvera os Integralistas. Aquela tal de ONU falava muito de desenvolvimento, de fome no mundo, mas não dizia nada de ditaduras. Não se metia onde mandavam americanos e soviéticos. Estava localizada em um belo conjunto arquitetônico, projetado por Oscar Niemeyer, fincado em Manhattan, em Nova Iorque, e lá dentro havia muita diplomacia e recomendações sobre isso e aquilo, crianças e seus direitos, mulheres idem, idem, idem e ibidem.
Mas os pretos não podiam se sentar em qualquer lugar nos ônibus dos EUA até que uma costureira preta se recusou a ceder o lugar para um branco. Essa era democracia americana em que todos deviam se espelhar? Para que serviam os direitos humanos da ONU se não houvesse mulheres como aquela Rosa Louise McCauley, conhecida como Rosa Parks, em 1955? Em 13 de maio de 1958, Jackie Robinson, um jogador preto de beisebol que em 1947 derrubara a proibição de pretos nos times profissionais e era engajado na luta contra a segregação racial, encaminhou uma carta ao presidente Dwight D. Eisenhower: “Assisti à Reunião de Cúpula dos Líderes Negros ontem, e ouvi o senhor falar que precisamos ter paciência. Tive vontade de me levantar e dizer: ‘Ah, não! De novo!’ Com todo o respeito, lembro-lhe que temos sido o povo mais paciente do mundo. Quando o senhor falou que devemos ter amor-próprio, perguntei a mim mesmo como haveríamos de ter amor-próprio e continuar sendo pacientes diante do tratamento que temos recebido ao longo dos anos. Dezessete milhões de negros não podem esperar que o coração dos homens mude” (Usher, 2014: 174). Muito à boca pequena corriam os boatos sobre a vida dura no socialismo soviético, bem autoritário, como os anarquistas prenunciaram, e, gradativamente, levados ao público em 1956 por Nikita Kruschev sobre o governo de Stálin. Não se devia falar disso, que era ínfimo diante dos crimes capitalistas.
A década de 1950 fez explodir outra bomba nos anos 1960, quando as crianças filhas da geração pós-II Guerra Mundial já eram jovens insatisfeitos com democracias, consumismos, socialismos, ditaduras, quando de repente aconteceu 1968. Os jovens escancaravam àquele mundo que ele tinha acabado! Não estavam ali para mostrar os rumos para um novo mundo, apenas lançavam bombas nos costumes, nas ideias, no convencional, no conformismo, na padronização, na idiotice, no sexo timidamente desgovernado, na crença no Estado, no dia seguinte, no futuro melhor. A escola já não nos continha.
Ano da revolta! Ano de avanço dos reformadores também, ano dos limites à ameaça da guerra nuclear, ano da emergência da Teologia da Libertação na igreja católica, com a opção preferencial pelos pobres, na América Latina, depois do Concílio Vaticano II (iniciado em 1961 e concluído em 1965) e da Conferência de Medelin (1968), ano anterior ao da chegada do homem à lua e do início da colonização do espaço sideral. 1968, ano também da Primeira Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Teerã, sobre o indispensável para a paz e a justiça. 1968, ano dos jovens nas ruas, das ocupações de universidades e fábricas, e de ultimato aos negócios entre Estado, sindicatos e burocracia estatal, dos cartazes provocativos, instigantes que lembravam os dos anarquistas na Revolução Espanhola, das artes fora dos museus e do governo de elites, de cinema convulsivo, teatro despojado, em qualquer lugar, de jovens encontrando novas formas de viver e lutar nas selvas contra os regimes, de ditaduras recrudescendo com apoio de americanos e soviéticos, de uma revolução cultural na China com base em um único livro de seu líder e em processos macabros de delação e de torturas, de anúncio de um possível socialismo pela via eleitoral que se consolidou no Chile (Salvador Allende, eleito por uma diferença mínima pelo voto direto, acabou escolhido indiretamente pelo Congresso, seguindo-se a Constituição do Chile).
Empresários ladeados de cientistas e interessados se reuniram na Itália e fundaram o Clube de Roma para equacionar novas medidas para o desenvolvimento. Quem lê tanta notícia? Quem faz essas notícias? Esse mundo acabou. Ou, se preferirem, acabará duas décadas depois, em 1989, com a queda do muro de Berlim, edificado em 1961; entre 1985 e 1991, com o governo de Mikhail Gorbachev, encerrando o Estado soviético a partir da glasnost (liberdade política) e da perestroika (restruturação econômica); com o Tratado de Maastricht, em 1992, que consagrou a União Europeia; com o fim da chamada Guerra Fria. Ano de 1989 marcado, também, pelo massacre na Praça da Paz Celestial, situada na capital da China, em Pequim, quando centenas de estudantes que protestavam nas ruas foram mortos pelo Estado.
A espécie passará a ser governada de outro modo. Os programas biopolíticos ajustáveis a qualquer regime deixarão de existir. O alvo principal dos governos passará a ser o planeta, visando-se recuperar sua vida degradada, e a ser conservado em benefício das futuras gerações. Configura-se desde o final da II Guerra Mundial a emergência da ecopolítica para a qual todos os regimes possíveis do Estado devem ceder à democracia que, por sua vez, passa também a ser uma prática social e cultural plástica. Em lugar do mundo, construção cara à tradição grega, começa a tomar seu lugar o global como sinônimo de uma uniformidade econômica capitalista e política democrática alcançável para o planeta. E, se preferimos, planeta e global são apenas maneiras de sublinhar que a ecopolítica procurará dar conta não só do governo da espécie humana, mas dos viventes na Terra e projetados para o espaço sideral.
Related posts:
You Cannot Live an Unconventional Life with Conventional Thinking
Conventional wisdom is generally accepted as what’s “right” and what should be followed if you want to live a good life. Think of anything and there’s probably a list of preconceived conventional…